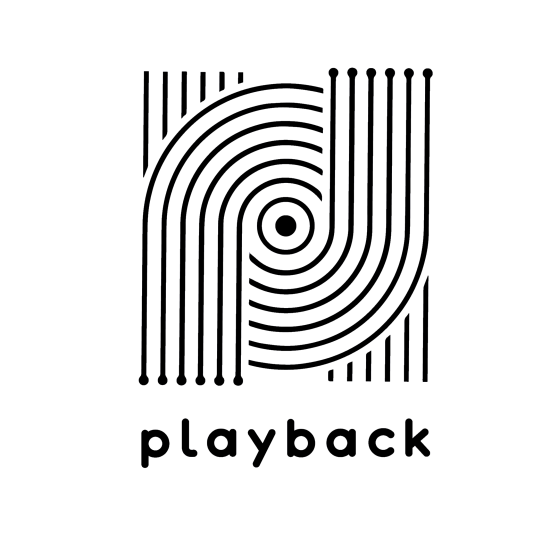A Cláudia chegou a Portugal e não perdoou. Chuva, muita chuva, trovoada como se amanhã não houvesse (e talvez não haja), estragos pequenos e grandes – de uma cozinha inundada a árvores caídas, estradas cortadas, telhados arrancados. Como cantou outrora o Pacman, “Faz tanto frio cá fora que eu já não vejo a hora”.
Em dias como este, não consigo deixar de tentar encontrar conforto nas atividades do meu dia-a-dia que me satisfazem. Olho para a estante e procuro um livro e um disco que, quando interligados, criam um universo para onde posso fugir e deixar de ouvir o que está a ocorrer lá fora. Agarro no livro, cheiro-o, e sinto-me revigorado. Agarro no disco e procuro o leitor mais próximo, pronto a utilizar. Levanto a tampa, pouso o LP, e vejo a agulha lentamente a fazer contacto com o vinil. O som surge após um mini momento de distorção, e sento-me. Assim me perco no tempo, assim o tempo me faz perder do que me rodeia.
Por estas bandas, procura-se conforto em escutarmos a música com os ouvidos que busquem conforto face a tudo aquilo que está a acontecer no mundo. Não que a arte tenha o dever de ser alguma bússola moral, mas pode levar-nos a pensar sobre as atrocidades que percorrem este purgatório a que chamamos vida. Do Talude à Palestina, do Sudão ao Rio de Janeiro, do Congo até Covas do Barroso, o mesmo fio de uma história que teima em repetir-se. A chacina como arte definitiva do capital, a destruição da humanidade perante aquele que devia ser o crime mais criminoso deles todos: a devoção à ganância da falácia do crescimento infinito. Se nada se perde e tudo se transforma, eis então surge a questão: se perdemos a nossa humanidade, em que é que ela se irá transformar?