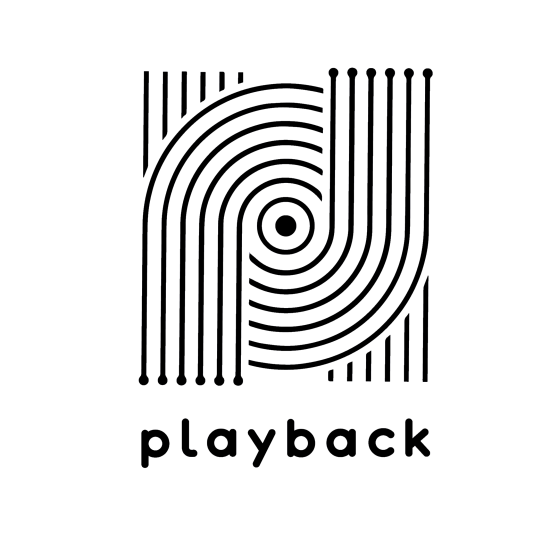A primeira Eurovisão de que me lembro por memória directa (ou seja, não através de relatos de terceiros ou visionamentos posteriores) é a de 1989, em que Portugal foi representado pelos Da Vinci e o seu “Conquistador”. Na altura, andávamos todos a cantar aquele refrão orelhudo que teimava em permanecer nas rádios do país inteiro graças a uma monocultura que só se começaria a fragmentar em meados da década seguinte. No entanto, pergunto-me até que ponto a maioria de nós (e principalmente as crianças) se dava conta do lusotropicalismo flagrante da letra, um colonialismo soft insidioso que tinha mais em comum com manuais escolares salazarentos do que com o synth pop pan-europeu do grupo de Iei-Or.
É verdade que a história se faz de avanços e recuos, mas neste momento os recuos parecem ser tão normalizados e radicais que por vezes quase funcionam como um gaslighting de tudo o que vivemos e aprendemos. Se o imperialismo está vivo e de boa saúde numa era que teoricamente possui todos os recursos para o refutar, torna-se nosso dever confrontar o passado em busca de possíveis pistas para um futuro diferente—ou simplesmente para nos assegurarmos de que não o voltamos a repetir.
Isto tornou-se um subtexto óbvio (ainda que inesperado) da visita que a Matilde Inês fez ao Brasil a convite de Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, e que ela relata nesta Playback. No entanto, a aculturação em geral é uma parte indispensável da maneira como fazemos e consumimos música em pleno século XXI, seja por cruzamento de referências ocidentais e orientais, exposição a sonoridades oriundas de vários países, ou ainda abertura a abordar diferentes géneros musicais.
Uma guerra faz-se de várias batalhas, mas se não identificarmos o ponto cego nas nossas próprias tropas mais vale declarar derrota logo à partida. Claro que não há mal nenhum em ir ao Brasil, Praia, Bissau, Angola, Moçambique, Goa, Macau, Timor, ou tantos outros recantos maravilhosos deste planeta—desde que não seja enquanto conquistador.