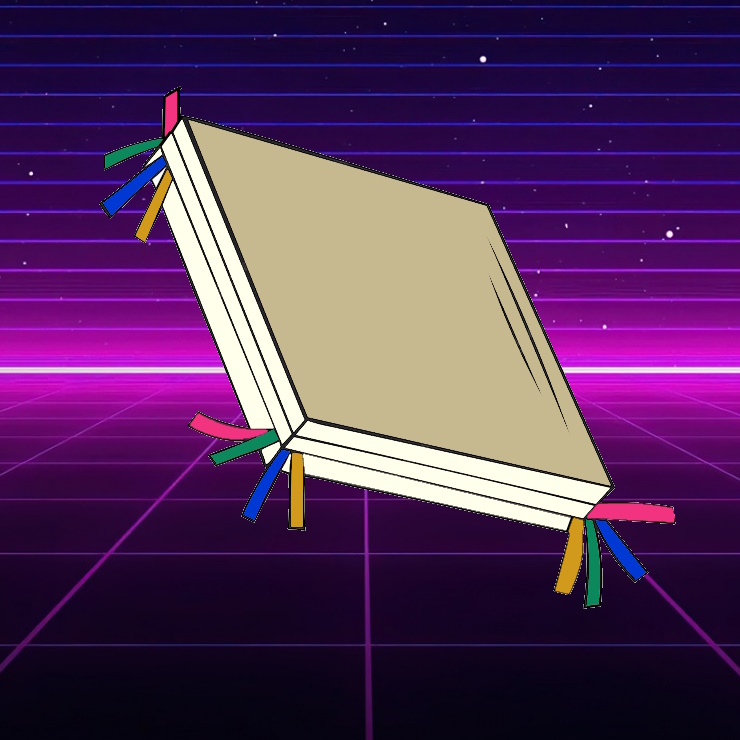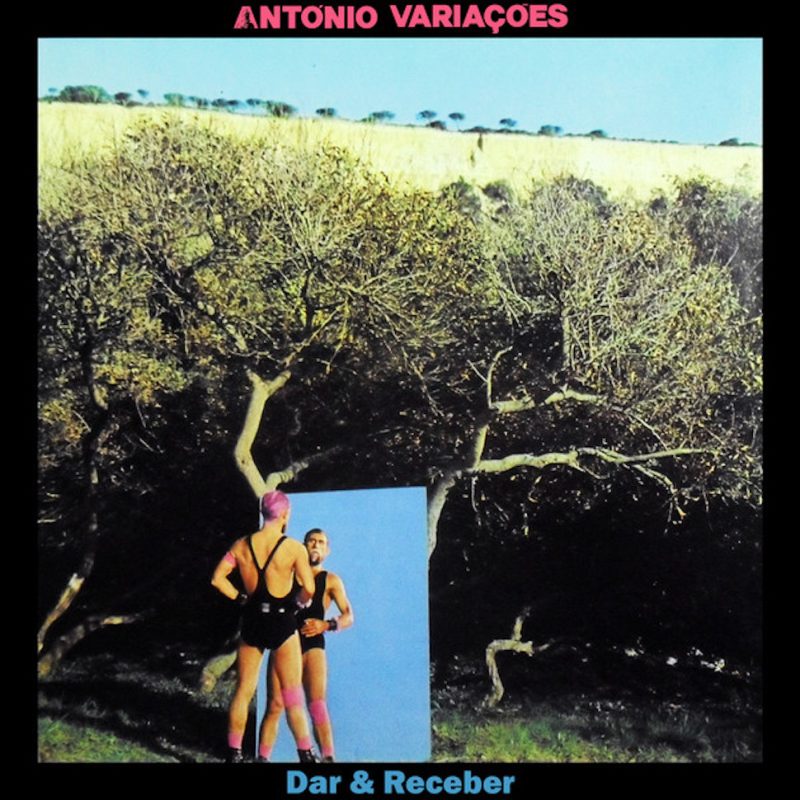Deixem que vos conte um facto sobre mim: tenho fobia de trovoada. Desde os meus jovens anos que me lembro de, sempre que do céu se ouve barulho, tapar os ouvidos e ser tomado pelo medo. A trovoada, se bonita para os outros, para mim nunca foi: foi sempre um pesadelo.
Quando era puto, entre ataques de choro, a minha avó arranjou uma forma de, pelo menos, impedir que as lágrimas se intensificassem. Quando a trovoada chegava, a minha avó dizia-me para cantar algumas cantigas, como o “Tiro-Liro-Liro” (canção popularizada por Amália Rodrigues), “Ó Rosa Arredonda A Saia” ou trechos de “Somos Livres” (“A Gaivota Voava, Voava”, de Ermelinda Duarte), para abafá-la. De alguma forma, resultava. Ainda hoje, quando começa a trovejar, lembro-me destas canções. Acalmam-me. Do que me lembro, foi dos primeiros contactos que tive com as diferentes formas e feições do cançonetismo popular lusófono.
Escolhi começar este texto com esta história para explicar que as várias cambiantes da música popular lusófona – e não apenas portuguesa – estiveram presentes ao longo da minha vida. Tal como na minha, certamente na de muitos – e duvido que isto se aplique apenas a quem cresceu na margem, como é o meu caso.
Nos últimos três anos, assistimos à popularização crescente – e cujo pináculo terão sido os primeiros seis meses deste ano de 2023 – da interseção entre elementos de música tradicional (neste caso, a portuguesa e lusófona) com ingredientes musicais contemporâneos. Uma fusão, podemos dizer. Um maior uso de adufes (o adufe agora é dos hipsters? Discutam!), o uso em massa de pauliteiros como estética acrescentada a canções, a presença de senhoras de idade a cantar ao desafio. De repente, toda a gente incorpora isto nas suas músicas e telediscos. É uma certa “portugalidade” – e olhem que detesto esta expressão – a vir ao de cima e a ser explorada.
Mas não nos fiquemos apenas por esta exploração de tradicionalismos; o fenómeno foi mais além e, agora, temos “pimbalismos” e popularismos a sofrerem uma espécie de revivalismo (mas como pode algo sofrer um revivalismo se nunca desapareceu?) em que fica complicado distinguir entre o sincero e a mera capitalização. Discussão inútil? Talvez. Mas interessante, no entanto, e em nada simples. Para a compreendermos melhor temos de voltar um bocadinho atrás no tempo.
Em 2021, Alexandre Ribeiro assinava um artigo no Rimas e Batidas intitulado “Os desfados da nova pop”, onde explorava algumas das interações que nos prepararam para aquilo a que viríamos a assistir nos últimos meses. Falava de “novos fados” – um termo utilizado por Pedro Mafama para definir “canções sobre a vida, que seguem uma via nova e tentam abrir novos caminhos, mas que têm uma ligação à cidade e ao sítio de onde surgem” –, dos descendentes diretos do impacto dessas movimentações (como João Não ou Rita Vian), do cruzamento crescente do hip hop com o fado (Stereossauro, Slow J) e do uso crescente de “pérolas rítmicas e melódicas que existem na vastidão da música tradicional portuguesa — chula, corridinho, vira, malhão e outros tantos” para criar novas cantigas – escute-se Revezo de Filipe Sambado, por exemplo, ou Cidade de Sal, de MEMA.
Quando Alexandre escreveu essa peça, o impacto de Conan Osiris (de longe a figura mais disruptiva da pop portuguesa da última década) e Pedro Mafama ainda se estava a começar a sentir. Não havia ainda Casa Guilhermina de Ana Moura – disco onde desaguam muitos dos cruzamentos referenciados no artigo –, mas “Vinte Vinte” e “Andorinhas” já apontavam para onde ela e muitos outros se dirigiam.
Portanto, podemos falar do momento atual como um pós-Conan. Mas não explica totalmente como aqui chegámos. Se Conan Osiris apenas tivesse vomitado cá para fora ADORO BOLOS – disco tão confuso quanto fascinante –, é possível que outras manifestações não tivessem surgido como acabaram por surgir. Foi preciso algo extra – e esse extra despontou da influência da música de latina e de nuestros hermanos.
No seu artigo, Alexandre fala sobre El Mal Querer (2018) de ROSALÍA, indicando que existe “um antes e depois para muita boa gente” após “MALAMENTE”. Com o seu segundo disco, a artista catalã provou – e ajudou a popularizar – que a combinação entre passado e presente era possível enquanto se piscava o olho ao mainstream. Mas se El Mal Querer serviu como prova do sucesso deste tipo de cruzamentos, não explica totalmente como surgiu a componente mais romântica que escutamos em alguns dos artistas lusófonos. Nesta equação, esse ingrediente vem muito da influência de C. Tangana e El Madrileño (2021), disco onde o coração e a comunhão são companheiros das mesclas sonoras efetuadas pelo artista de Madrid – veja-se o Tiny Desk de Tangana como prova disto. El Madrileño foi um stepping stone necessário para despertar curiosidades extra em nomes como Pedro Mafama ou João Não de forma a expandirem horizontes e criarem o seu próprio universo. Em 2022, ROSALÍA marcou o golo decisivo que comprova que estas conjugações podiam ser feitas à escala de estrela pop internacional. Com MOTOMAMI, atingiu um novo patamar de estrelato internacional sem perder qualquer capacidade de ser disruptiva e de derrubar barreiras entre o tradicional e contemporâneo. Muitos tomaram (ainda mais) notas.
Subitamente, especialmente em muita da pop mais mainstream tuga, artistas como Carolina Deslandes – observar o videoclipe de “Saia da Carolina” –, D.A.M.A – veja-se como copiam Tangana à descarada –, D’zrt – na interessante versão de “Caminho a Seguir” com Cláudia Pascoal – ou a colaboração entre Nuno Ribeiro, os Calema e Mariza – a execrável “Maria Joana” –, decidiram abraçar a exploração destas sonoridades e estéticas tradicionais. Consequência?
Se o que acontecia antes tinha (ou vá, parecia ter) um lado sincero, rapidamente o movimento ficou reduzido a mero pastiche e gerador de discourse, plástico para ser consumido sem se ter particular atenção à sua história ou contexto. No pior dos casos, a estereotipização e fetichização aproxima-se de um saudosismo, funcionando como uma espécie de legitimação do português simples através do “tradicionalismo, do ruralismo e do espiritualismo”, como enuncia Luís Trindade em O Estranho Caso do Nacionalismo Português, conceitos cruciais ao ideal utópico do nacionalismo salazarista. A Portugalidade natural é essa; uma construção, portanto.
Há razões para que os Glockenwise, no seu mais recente longa-duração Gótico Português, tenham explorado o lado escondido e fantástico da “margem” e falem sobre o assunto a partir de uma posição anti-fetichista e anti-saudosista (e não a partir de uma posição anti-fusão). “O Portugal da província não é um país de acéfalos”, disseram à Time Out Lisboa; “Portugal não é só lenços de Viana e Pauliteiros de Miranda”, indicaram à Blitz/Expresso.
O que os Glockenwise pretendem transmitir é que existem histórias – reais e fictícias – nestes locais que, desde sempre, devido à centralização do país (com particular foco no período salazarista), foram apagadas ou colocadas de lado. As dificuldades passadas – “a natureza farta de vergar” como cantam os Glockenwise em “Natureza” – são vistas como felicidade através da simplicidade. A “margem” e tudo o que nela habita, de onde muitas destas tradições e sons são originários, é apenas lembrança de um “ideal” em contraponto com a cidade movimentada e gentrificada. Os problemas que lá existem não são importantes,servindo apenas de pano de fundo para o restante. O respeito é necessário; e, felizmente, há vários artistas que têm respeito pelo material que trabalham nas suas fusões.
Ana Lua Caiano, por exemplo, explora veias tradicionais a partir de um cancioneiro que procura influências em Zeca Afonso, José Mário Branco ou Fausto Bordalo Dias (que, em si, carregavam uma certa “portugalidade”), obtendo um resultado que reflete sobre as ansiedades que muitos jovens sofrem num universo onde o capitalismo e o neoliberalismo do mercado livre (olá crise habitacional portuguesa) triunfam. Num espectro igualmente interessante, podemos olhar também para os Bandua ou para ben yosei. Os primeiros, formados por Edgar Valente (também dos excelentes Criatura) e Bernardo d’Addario, exploram o legado pagão presente no universo das Beiras, em particular na sua Beira Baixa. O segundo, no seu mais recente disco, lagrimento, apresenta uma das mais belíssimas reflexões sobre aquilo que é crescer fora dos centros urbanos, rodeado por um universo de santos, catolicismo, e mística fantástica (em sentimento, lagrimento não é muito diferente daquilo que os Glockenwise propõem com Gótico Português). Se quisermos falar do lado mais romântico destes cruzamentos, outros nomes entram na equação: o já referenciado João Não e o seu parceiro Lil Noon; a discografia do também já mencionado Pedro Mafama que, apesar de curta, tem o seu quê de disruptiva; todo o universo romântico de história oral portuguesa de David Bruno, Mike El Nite ou Chico da Tina.
Mencionamos estes nomes, mas o caminho pode ser traçado mais atrás. Por exemplo, alguma da estética que associamos às explorações de David Bruno, Mike El Nite e aos primeiros lançamentos de Pedro Mafama, pode ser remontada aos tempos da Meifumado. E se quisermos falar de cruzamentos entre tradicional e contemporâneo, não faltam exemplos de outros artistas que o fizeram no passado: João Aguardela, com destaque particular ao projeto Megafone; os Dazkarieh, cujo repertório explora de forma bem pautada o lado tradicional da música portuguesa; o cruzamento de rock com música popular dos Diabo na Cruz (curiosamente, Jorge Cruz, líder da banda, foi autor de um dos grandes êxitos de Ana Moura, “Dia de Folga”, fazendo prova de que a fadista esteve sempre em contacto com estes movimentos e sempre os soube trabalhar para servir as suas canções). A lista continua: Lavoisier, Bia Maria, Sopa de Pedra, META_, Hadessa, o artivismo das Fado Bicha, o hyperpimba de Sreya… Tudo isto é indício do que Lila Fadista (Fado Bicha) evidenciava ao jornal i há algumas semanas: “Acho que isto segue uma tendência, que já existe em Portugal desde a última década, que é a valorização da música escrita em português, mas também do facto de uma série de tradições do nosso país terem vindo a ser mescladas com outras sonoridades.” Na mouche.
O mais recente disco de Pedro Mafama, Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente, é um excelente exemplo do culminar de todos estes fenómenos. Na sua génese, não considero que Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente venha de um ideal muito diferente daquilo que é apresentado em Por Este Rio Abaixo (2021), o seu predecessor. Se no seu primeiro disco Mafama desconstruía, através de uma certa melancolia, múltiplos sons oriundos de vários locais – e isto inclui Portugal, em todos os seus feitios e cores –, em Estava No Abismo… propõe-se a repensar o pimba, o baile, as rumbas, as marchas populares (curiosamente, uma invenção salazarista) a partir daquilo que reconhecemos como “música de Lisboa”, ou seja, música que apenas poderia ser criada no melting pot que se tornou a capital portuguesa primeiro no pós-Buraka Som Sistema; depois, no pós-Príncipe; e mais recentemente, na “Nova Lisboa” (ainda uma utopia por alcançar na sua totalidade) do pós-Dino d’Santiago.
Porém, sublinhe-se: Lisboa. Se o imaginário do baile e do pimba – e aqui falamos do pimba como uma construção e um conjunto de artistas, não como um género com pretensões estruturais bem definidas –, é associado às festas de verão ditas “rurais”, é muito porque Lisboa assim o construiu. Mafama, porém, está simplesmente a obedecer à sua história e à sua própria definição de “novos fados”. O seu disco surge a partir de Lisboa e é, em suma, uma carta de amor à cidade em geral e a Alfama e à Graça em particular. Nesse sentido, Mafama alcança o seu objetivo: é um disco unificador e de festa – como relembra o nosso José Duarte na sua crítica. Mas apesar isso não implica que não possamos olhar para o disco com olhar extra crítico devido ao contexto que o rodeia.
João Mineiro, na sua crítica publicada no Rimas e Batidas, escreve que “Mafama é um observador realmente curioso e é por isso que o seu olhar sobre as culturas populares não padece nem da doença infantil do elitismo, nem do vício estéril da condescendência.” Concordo; Mafama entende o seu material de estudo e, à imagem de C. Tangana, sabe trabalhá-lo a partir de quem o influenciou. Mas a sua “portugalidade” é Lisboa e isso nota-se. Durante o período de promoção de de Estava no Abismo…, Mafama tem adotado uma persona que, apesar de nascer de um momento de grande felicidade e total despretensiosidade, torna imensamente complicado perceber onde está a linha da sua performance. Se, por exemplo, com alguém como David Bruno sempre foi fácil de entender o limite entre a personagem (algo kitsch, ora) e a sua sincera abordagem à história oral portuguesa (com grande foco na sua margem), com Mafama esta é mais complicada de discernir. Sabemos que existe, mas fica a questão: onde? E a consequência da procura de resposta é que, em vez de falarmos de “pós-pimba”, acabamos a falar de “posh-pimba”, como sublinha O Gato Mariano num dos seus comics.
Parece estranho estarmos aqui a discutir tradicionalismos, “pimbalismos” e popularismos – e certamente outros derivados – a partir da mesma lente. Na realidade, são universos diferentes. Mas o que os une é o facto destas explorações estarem a ser feitas por artistas que, na sua maioria, vêm de grandes centros urbanos. Lila Fadista, por exemplo, enquanto integrante do supergrupo Super Baile, contava-me há algumas semanas que “na maior parte das vezes são sempre pessoas dos grandes centros urbanos a fazerem isso”. A vocalista das Fado Bicha acrescenta ainda que existem casos, como o seu, em que são pessoas com “ancestralidade” em locais fora dos grandes centros urbanos, mas que mesmo assim “existe essa necessidade das pessoas das periferias do país, das margens, de migrarem e de virem para os grandes centros de produção e de fixação de conhecimento, como é Lisboa, mas também o Porto.”, conclui. A afirmação de Lila retorna-me a Gótico Português e à minha relação com o disco. Foi Gótico Português o registo que quebrou o meu fascínio inicial com este movimento e me fez começar a pensar com mais afinco sobre a presença de elementos da música tradicional portuguesa e lusófona na música portuguesa atual.
Foi precisamente por isso que comecei este texto com uma história de memórias e do passado, para contextualizar a relação que em mim se formou desde cedo com o “popular” da margem, que durante muito tempo foi desvalorizado e visto como “parolo” por pessoas dos grandes centros urbanos. Agora, parece que já não é assim. Principalmente entre públicos mais jovens, a relação com a música popular – e aqui incluo tudo desde a música tradicional até ao pimba, num encaixotar que permite uma análise geral ao fenómeno – tem-se alterado. Alavancada pela Internet, a divulgação e redescoberta de muitos artistas ligados ao universo da música pimba, música ligeira, música popular de verão, com o caso principal a ser o de José Pinhal (e o dos Post-Mortem Experience), tem-se intensificado. “Não só parece que as pessoas não têm vergonha de gostar como querem saber mais e ir mais a fundo – saber de onde é aquelas músicas vieram, como é que foram produzidas – e descobrir quem está por trás da música”, contava Mike El Nite há umas semanas, quando falei com ele e com João Não sobre o Bar Dançante, festa que organizam em torno dos vários feitios de música de baile.
Com isto não estou a dizer que toda a música popular é “boa” ou digna de se escutar, até porque não me cabe a mim dizê-lo. Mas acredito que a análise destas associações – entre o considerado rural e o cosmopolita, o tradicional e contemporâneo – pode permitir um melhor entendimento das dinâmicas sociais entre os grandes centros urbanos e a margem portuguesa, que em si carrega muitas histórias diferentes e únicas para contar.
É por isso que, em parte, quando comecei a ouvir artistas como Mafama, os Bandua, e até Claudia Pascoal (outra artista cuja progressão artística e abraçar desta estética merece uma discussão interessante), Rossana (no muito bom EP Ao Deus Dará) ou O Marta (com o cruzamento entre indie pop e sons tradicionais no seu disco de estreia Ó Moça! É Folclore), a criarem uma espécie de música popular para pós-modernos, fiquei entusiasmado. A maior parte destes artistas, ao contrário de, por exemplo, Deixem o Pimba Em Paz – projeto pelo qual sinto carinho mas que sempre me pareceu de alguma forma tentar intelectualizar algo que não era necessário – não tentavam apagar legados, mas sim interpretá-los para novos momentos, trazendo de volta culturas e referências que poderiam ficar esquecidas – pelo menos, para quem não é da margem.
O problema é que, com a proliferação destas explorações, e como em tudo destruído pela vertente capitalista do abuso e do consumo, da capitalização de estéticas e culturas sem honrar de onde vêm, a excitação inicial tornou-se, agora, em alguma frustração. Frustração essa porque ficou complicado entender quem está a fazer a coisa de forma sincera. Algo que era inicialmente interessante torna-se apenas em paródia, em revivalismo neo-kitsch (…e pós-irónico? Pergunta para pensar) pronto a ser capitalizado, marcado por uma saudade ao desbarato que não é saudável. Como Chico da Tina dizia ao Público em 2019 sobre estas manifestações: “esta negociação deve ser feita com todas as diligências, pois, como sabemos, a saudade pode-se tornar um empecilho ao progresso e confundir-se com outras ideologias. É preciso conseguir encontrar um espaço para o passado que não seja o do nacionalismo ou o do saudosismo exacerbado”.
E essa talvez seja a maior ressalva deste movimento – e, acima de tudo, do momento que se vive na música portuguesa. Quando as coisas são bem-feitas, geram uma ação e uma reconfiguração que permitem alavancar estes fenómenos e tratar estilos e codificações empurradas para o lado por uma elite com novos olhos, quebrando barreiras outrora edificadas e largamente artificiais. Porém, há que ter atenção – e aqui é onde é necessário olhar criticamente para estes fenómenos: tratar tudo isto apenas como uma simples estética só faz com que se percam histórias e culturas, passadas através de um filtro que homogeneiza tudo à sua volta. E isso, francamente, não se quer nem se deseja.
Estes sons são, na realidade, de todos: dos centros urbanos, da periferia (e não só da periferia de Lisboa…), da margem. Pode-se até transpôr barreiras, mas só isso não é suficiente. Para as derrubarmos na sua totalidade, a forma como as coisas são comunicadas também importa. Portanto, que se construam sons e cantigas tendo em mente o respeito e a dignidade para com quem neles sempre carregou uma parte de si. Porque ainda há muita(s) história(s) por conhecer e contar.